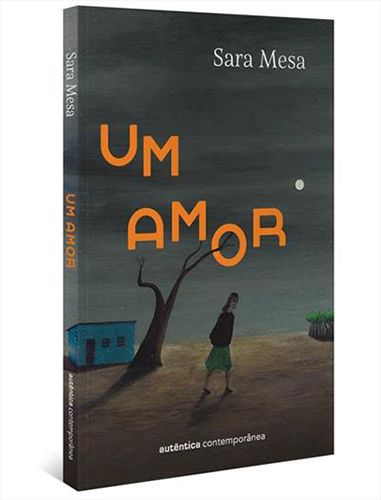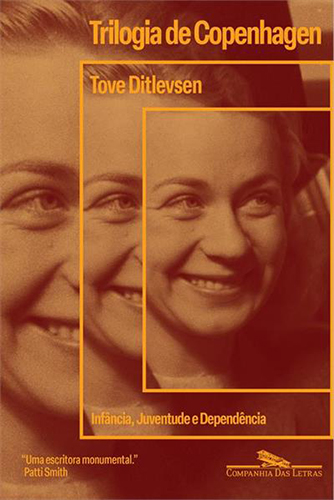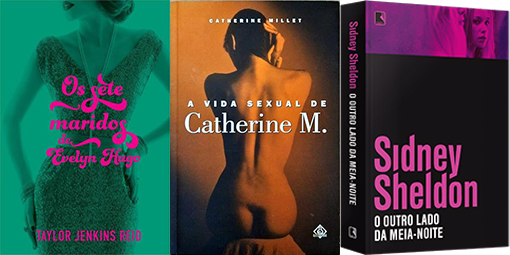A vida debaixo do véu
Um dos mais conhecidos é O Livreiro de Cabul (Bestbolso, R$ 20), da jornalista norueguesa Åsne Seierstad, que hospedou-se por três meses com uma família afegã para concluir que a condição de subserviência feminina naquele país independe da orientação política. A rebeldia do livreiro Sultan Kahn, que enfrentava o Talibã para vender publicações proibidas pelo regime, era da porta de casa para fora. Sem consentimento ou conhecimento de sua mulher, decide tomar uma segunda esposa, mantém uma irmã praticamente escravizada, fazendo todas as tarefas domésticas e comanda com mão de ferro a família inteira.
O comportamento de Sultan Khan poderia ser plenamente justificável pela leitura do Corão, garantem especialistas, porém não chega a constituir uma regra. Em sua biografia Eu sou Malala (Companhia das Letras, R$ 34,50), a jovem paquistanesa que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2014 depois de sobreviver a um atentado que lhe dilacerou parte do rosto, era incentivada pelo pai a frequentar a escola. Atualmente, Malala e a família vivem na Inglaterra.
A menina, assim como sua mãe, faz questão de cobrir os cabelos com um véu. O que seria um símbolo da repressão machista tem, para ambas, a conotação de indicar sua origem cultural.
Essas contradições culturais e religiosas, afirma a australiana Geraldine Brooks, que foi correspondente do Wall Street Journal no Oriente Médio, devem-se ao uso dos textos sagrados do Islã para justificar a repressão feminina. Em 1994, ela tentou desmascarar a hipocrisia do puritanismo fundamentalista em Nove partes do desejo – O mundo secreto das mulheres islâmicas (Gryphus, R$ 42).
O tema continua mais do que contemporâneo e também inspira obras de ficção. Acaba de chegar às livrarias brasileiras O livro do destino (Bertrand Brasil, R$ 49), da iraniana Parinoush Saniee. Desde seu lançamento, em 2003, o romance foi recolhido duas vezes pelas autoridades do país. A saga da adolescente Massoumeh começa no Irã sob o regime do xá Reza Pahlevi e chega aos tempos atuais. A família sai do interior para Teerã, onde a menina continua a estudar, apesar de desagradar aos dois irmãos mais velhos. O pai a protege, a mãe preferia que ela se dedicasse ao aprendizado de corte e costura. Apesar da vigilância dos irmãos, ela consegue trocar cartas com um rapaz das vizinhanças – o que leva a família a procurar casá-la antes que ela traga mais desonra ao lar. O casamento arranjado, por sorte, é com um dissidente de esquerda, que a incentiva a retomar os estudos. No entanto, com a tomada do poder pelos aiatolás, a família inteira vai sofrer perseguições políticas.
O tom moralista do romance chega a provocar a sensação de que a violência cometida contra a protagonista pareça mais dramática do que na vida real. Mas a violência doméstica sempre parece uma ficção para quem jamais a sofreu. Ser uma cidadã de segunda classe ou menos do que isso ainda pode ser um absurdo para as mulheres ocidentais, que, no entanto, ainda hoje têm o dever de cuidar de casas e crianças, vivendo o dilema de se assumirem ou não como feministas. Eliminar a conotação pejorativa do adjetivo é a preocupação explícita da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, que há pouco mais de dois anos, falou sobre o tema numa conferência. Sua palestra foi publicada no livrinho Sejamos todos feministas (Companhia das Letras, R$ 11,90), que conclama homens e mulheres a se unirem pela igualdade entre os sexos, seja na divisão das tarefas domésticas ou na responsabilidade pelo sustento da família. Um texto importante para todos os que se preocupam com um mundo mais justo em que o conhecimento se dissemine e transformado em algo para o proveito de qualquer um.