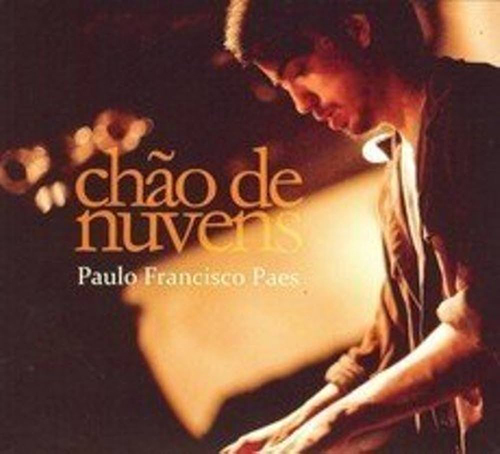Confesso que errei
Tudo que fazia de Wilson Simonal um ídolo que encantava seus admiradores, causava raiva a nós seus colegas que não admitíamos que ele nada fizesse para denunciar uma ditadura militar que torturava e matava seus inimigos. Simonal era um alienado que pouco se lixava para a situação política brasileira naquele final dos anos 1960, início dos anos 1970. Com programas exclusivos na TV Record e na rádio Jovem Pan, antiga Panamericana, todas pertencentes à família de Paulo Machado de Carvalho, Simonal era uma estrela ascendente. Grana, mulheres e automóveis de luxo a sua meta de consumo.A Copa de 70, no México, causou um drama de consciência entre os que se debatiam contra o regime militar. O drama de torcer ou não torcer pela seleção brasileira dividia os corações e as mentes daquele contingente de pessoas que sabia que a ditadura estava pronta para capitalizar politicamente uma possível vitória da seleção comandada pelo técnico Mário Lobo Zagalo. A demissão de João Saldanha – que comandou o time durante as eliminatórias e transformou jogadores como Pelé, Tostão, Carlos Alberto, Piazza, Clodoaldo, Gerson, Rivelino e Jairzinho nas “feras do Saldanha” –, deixou clara a interferência do general Emilio Garrastazu Médici na convocação dos jogadores que representariam o Brasil no México. Consta que tendo recebido ordens para convocar Dario, o Dadá Peito de Aço, Saldanha respondeu que se ele não indicava os ministros que Médici punha em seu governo, que o general não indicasse jogadores para seu time.Naquele momento, entre torcer contra e a favor, Simonal não disse que sim nem que não, antes muito pelo contrário, mas engajou-se solenemente à delegação que viajou para disputar a Copa do Mundo do México, em 1970. Médici e seus companheiros de ditadura “rezavam” ardentemente pela vitória da seleção, que capitalizariam para “alegrar” ainda mais o povo e para passar para o exterior uma imagem de que por aqui estava tudo às mil maravilhas. Não estava. Miguel Gustavo compôs o hino “Pra frente, Brasil” que foi usado civicamente durante a transmissão ao vivo para todo o Brasil, pela primeira vez na história da televisão brasileira. “Tudo era um só coração” dizia Miguel Gustavo e todos os que torciam desesperada e inocentemente pelo futebol brasileiro, que viria a se consagrar tri-campeão mundial e trazer o caneco “Jules Rimet” pra casa, cantavam a pleno pulmões pelas ruas, a cada vitória da seleção canarinho.Mas enquanto do México vinham os gols que deflagravam uma alegria imensa em nossa gente, em meio à algazarra, dos porões da ditadura vinham os gritos abafados e o cheiro de sangue dos presos políticos que, se não morriam massacrados pela “eficiência científica” das torturas ensinadas aqui por “especialistas” estrangeiros, guardavam em seus corpos e almas o efeito da dor brutal que quando não matava, aniquilava o sentido de vida futura. Mas a vida tinha que seguir e seguia. Wilson Simonal cada vez mais se identificava com o sucesso e ganhava muito mais dinheiro e prestígio com sua voz e seu suingue contagiantes. Indiferente ao que se passava na política nacional, ele era o exemplo de artista que cantava por cantar; que cantava para puramente se divertir e para fazer com que as pessoas se divertissem com seu canto. Jamais passou pela cabeça de Simonal que a cultura, mais especificamente a música, pudesse ser capaz de propiciar mudanças revolucionárias no povo que a ela tivesse acesso. E assim seguia Simonal, a simplesmente cantar e nada mais, ao invés de se imbuir do sentimento de responsabilidade que empurrava muitos de nós na direção da denúncia através da música engajada em um processo político que se acreditava ilusoriamente, viria a derrubar a ditadura e a restaurar a democracia aviltada pelo golpe militar de março de 1964.Simonal vivia como um rei que tem a corte a seus pés. Conquistou essa corte com seu talento e dela dispunha como melhor lhe convinha. Wilson Simonal tinha o direito de fazer de seu canto o que bem entendesse e assim o fez. Ele vivia a vida como ela mais lhe sorria. Enquanto isso, muitos de nós lutávamos e empunhávamos nossas vozes e talentos para driblar a repressão e a censura. Nós, seus colegas que, diante do silêncio imposto pela força bruta, tratávamos, cada um a sua maneira, de denunciar os atos de barbárie praticados impune, covarde e cotidianamente.Convém lembrar que nem só de Simonal se constituía a legião dos que se lixavam para os atos dos militares ditadores e seus cúmplices civis. Muitos outros colegas da área musical sequer sabiam que existia tortura e morte nos cárceres brasileiros. A propaganda oficial se encarregava de torná-los cada vez mais alienados e alheios à situação. A categoria musical convivia entre si em civilizado contato, onde uns eram contra o governo, outros não eram contra nem a favor e alguns poucos eram claramente favoráveis à ditadura. Esse equilíbrio se sustentava, por um lado, na clareza de alguns que sabiam ser impossível “converter” colegas “desinformados”, e, por outro, pelos que “nada” sabiam e, portanto, pouco tinham a exigir de quem quer que fosse. Entre os “poucos” favoráveis ao regime militar, certamente existiram aqueles que, cooptados pelos órgãos de informação, transformaram-se, esses sim, em dedos-duros profissionais.Wilson Simonal não tinha o perfil de alguém que pudesse se “infiltrar” e denunciar colegas “comunistas”. Talvez lhe faltasse até disposição para “trabalhar” num ofício tão complicado e arriscado como esse. Não levava jeito para ser dedo-duro o Simonal. Seu jeito de ser e levar a vida era cantando “Meu limão meu limoeiro”, “Mamãe passou açúcar em mim” e outras pérolas da “Pilantragem” da qual ele tão bem soube encarnar o espírito. E também de cantar músicas como “Brasil eu fico” e “Cada um cumpra o seu dever”, jóias do mais indigno ufanismo da época em que a ditadura ameaçava seus opositores com “Brasil, ame-o ou deixe-o” e até “Brasil, ame-o ou morra”. Podia-se gostar ou não gostar das músicas e da postura tão imodesta quanto arrogante de Simonal, mas nunca acusá-lo de ser um informante a soldo da ditadura.Em 1971, Simonal “descobriu” que o contador de sua empresa de produções artísticas teria dado um desfalque em suas contas. Inconformado, ele pediu a alguns “amigos” ligados à repressão que “prendessem” e “dessem uma dura” – eufemismo usado para autorizar a tortura –, no ex-funcionário. Este é, literalmente, o único crime cometido por ele e pelo qual foi condenado, tempos depois. Wilson Simonal nunca foi um dedo-duro, mas não se incomodava nem um pouco de ter agentes civis e policiais militares entre os que faziam parte de seu círculo de amizades. Numa simplificação grosseira, pode-se dizer que alguns “amigos” de Simonal podiam ser qualificados, como se dizia à época, de “maus elementos” que punham em risco a idoneidade dos que lhes eram próximos. Não sendo um deles, Simonal talvez até tivesse vontade de ter o “poder” quase absoluto que esses “funcionários” da ditadura tinham. Entretanto, Simonal nunca foi um dedo-duro. Certamente, havia no meio artístico algum informante. Durante a vigência da ditadura, todos os segmentos da vida brasileira tiveram suas atividades controladas pela repressão, através de agentes infiltrados. Todas as categorias profissionais, sem exceção, e não temo aqui a generalização, tiveram os passos de seus líderes, ou mesmo de quem se destacava por sua competência e saber, mesmo sem exercer ascendência sobre seus colegas, vigiados diuturnamente pelos serviços de informação.Falso malandro e sem fazer jus a sua tão alardeada esperteza, Wilson Simonal demonstrava um “deslumbramento” irresponsável e pueril com a força que dispunham seus “amigos” e que ele não hesitou em acionar quando se sentiu roubado por um funcionário. O “poder” acima da lei; a “força” em detrimento da civilidade; a vontade de “levar vantagem em tudo” subiram-lhe tristemente à cabeça. Faltou-lhe um mínimo de consciência para perceber que sua vida, que sua carreira, que o seu futuro poderiam ser comprometidos ao deixar-se encantar pelas “facilidades” que só uma ditadura permite a seus assalariados. Hoje, puxando pela memória e depois de conversar sobre esses fatos com alguns colegas, lembramo-nos das declarações do advogado de Simonal que, ao defendê-lo das acusações de ter mantido seu contador em cárcere privado e de ter mandado prendê-lo e consentido que alguns “amigos” o torturassem, disse algo como “meu cliente tem serviços prestados ao governo, por isso nada acontecerá com ele”. Evidentemente, que reproduzo apenas o sentido das declarações, nunca as palavras literais de quem “defendia” o cliente Simonal e do qual, infelizmente, não conseguimos lembrar do nome. Wilson Simonal não fez questão de desmentir seu advogado, talvez por se sentir “orgulhosamente protegido” pelos “serviços prestados”, ainda que tudo não passasse de uma mera e angustiante fantasia. Condenado a cinco anos de cadeia pela acusação de extorsão contra seu ex-contador, Simonal, em 1974, é preso e libertado poucos dias depois por força de um habeas-corpus.Começava então o calvário de um dos maiores cantores brasileiros que, seduzido pela podre ilusão de ter ele também a “guarida” concedida aos “amigos” dos ditadores, deixou-se afundar na própria ignorância prepotente e conheceu as dores de um ostracismo precoce que aos poucos lhe corroeu a vontade de viver e o levou ao alcoolismo e à morte.Simonal deixou dois filhos que seguem seus passos musicais de forma brilhante. Max de Castro e Simoninha são parte de uma nova geração de músicos que se dedica com afinco ao estudo da música para poder melhor extravasar seus talentos inatos. E hoje, cobertos de razão, os filhos de Wilson Simonal querem resgatar a honra de seu pai, já que ele morreu afirmando nunca haver sido um dedo-duro. Pior, morreu enxovalhado pela acusação, sem nenhuma prova ou base legal, que o matou devagar, como numa tortura – que ironia! – que era a marca registrada de alguns dos “amigos” de quem Simonal tanto “invejou” a “força”. Nos anos 1990, o secretário da Comissão dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça, José Gregori, após investigação junto às agências de inteligência a serviço do Estado Brasileiro durante os anos de chumbo, constatou não haver nenhuma referência ao nome de Wilson Simonal em seus respectivos arquivos. Recentemente, no segundo semestre de 2003, o relatório final de uma comissão nomeada pela OAB, após outra investigação dos fatos e após ouvir depoimentos de pessoas que conviveram com Simonal, naquele período, concluiu não haver nenhuma evidência que o mostrasse como um delator a serviço da repressão durante a ditadura militar. A situação de Simonal, desde o início até o desfecho melancólico de sua vida, é uma chaga aberta no peito da MPB. Apesar de saber que a barra era pesadíssima, que todos andávamos “falando de lado e olhando pro chão” por medo dos “homi”, me indigna perceber que eu não tive forças ou vontade para tentar buscar – ainda que eu reconheça e reafirme o quão difícil seria isso –, conhecer a verdade sobre a acusação que surgiu em forma de um boato reforçado pelo comportamento quase pusilânime de Wilson Simonal. Não fiz o que só agora acho que deveria ter sido feito. Simonal está morto desde 2000 e seus filhos buscam provar a inocência do pai, inocência essa, diga-se, desnecessária de ser comprovada na medida em que existe a “inocência presumida”, que sustenta que todo acusado é inocente até que se prove ao contrário. E por que assim não foi? Wilson Simonal nunca foi um dedo-duro, e nenhuma investigação feita até hoje encontrou nada que confirmasse o que começou como um boato e assim se mantém até hoje. E como nada foi constatado, como nada foi comprovado, Simonal foi levado à morte, assim como o maestro Erlon Chaves, crivado pela intolerância e pela discriminação racial que afirma que negros têm seu próprio lugar e por isso não devem dele sair. Toni Tornado, que está aí até hoje, que o diga.Vejo hoje o quanto não pude ou não quis me empenhar para impedir o “linchamento” a que foram submetidos três dos grandes da música popular brasileira. Nenhuma discordância quanto ao gosto musical ou mesmo quanto a divergências políticas e ideológicas com Simonal, Erlon ou Toni Tornado podem justificar minha omissão. Tudo bem que em minha própria defesa eu possa argumentar que, mesmo se fosse possível “vasculhar” aquela montanha de lixo autoritário, dificilmente seria possível estabelecer a verdade dos fatos, justo num momento em que a verdade era a vítima que caia junto com os presos políticos e, muitas vezes, morria com eles. Se Wilson Simonal já era uma estrela popular e consagrada, Erlon Chaves era um maestro e arranjador respeitado por suas qualidades profissionais. Trabalhou com vários nomes da música brasileira e, inclusive, foi diretor musical de algumas edições do Festival Internacional da Canção, realizadas pela TV Globo, inclusive, do I FIC, em 1971. Mas foi como intérprete da música “Eu também quero mocotó”, de autoria de Jorge Bem (a mudança para Benjor surgiu anos depois), que o maestro ganhou notoriedade e sucesso que, se por um lado trouxe fama e reconhecimento popular, levou-o a uma situação que colocou em risco a sua integridade física e o estigmatizou para o resto da vida. Vestindo uma berrante calça vermelha sob uma túnica à la Mao Tsé-tung, seguido pela Banda Veneno trajando túnicas extravagantes e pelo grande coral misto com batas amarelas e cor de abóbora, Erlon Chaves surge no grande palco montado no Maracanãnzinho para defender a última concorrente da segunda eliminatória do V FIC realizado em 1970. Dois negros como Ele, abanavam-no com plumas de avestruz. Nascia ali um fenômeno. O sucesso daquele intérprete novato sacudiu as entranhas caretas do festival.Classificado para ir à final internacional, Erlon Chaves foi também convidado para presidir o júri que escolheria a grande vencedora do V FIC. Para reapresentar a música de Jorge Bem, Erlon avisou que antes de cantar faria um show extra. E assim, ao invés dos “escravos negros” com abanos de plumas de avestruz, anunciou as “Canequetes” – mulheres lindas que rebolavam para os freqüentadores do recém inaugurado Canecão – que, numa dança sensual e vestidas com roupas cor da pele que só faziam aumentar suas formas exuberantes, se esfregavam nele e o beijavam. Para aumentar a reação negativa à performance, que tomou conta do ginásio superlotado, Erlon Chaves disse ao microfone que sendo beijado pelas gatas ali no palco, todas as mulheres ali presentes deveriam se sentir beijando-o. Um escândalo! A glória!Tamanho sucesso chamou atenção dos militares da ditadura que havia recrudescido com a decretação do Ato Institucional número 5. Os telefones da Rede Globo de Televisão recebiam centenas de telefonemas protestando contra o desrespeito à família. Os jornais atacavam a cena que diziam ter sido obscena. E o caldo para fritar Erlon Chaves ferveu. Preso pela Polícia Federal, o “negro cafajeste”, intérprete de “Eu também quero mocotó”, foi solto alguns dias depois. Mas o pior ainda estava por vir, o chefe do Departamento de Censura Federal proibiu que Erlon exercesse a sua profissão por 30 dias, em todo o território nacional. A violência inominável desabava sobre um negro que ousou desafiar a moral e os bons costumes estabelecidos pela ditadura militar e o “torturou” até sua morte precoce em novembro de 1966.Foi nesse mesmo V Festival Internacional da Canção que Antônio Adolfo e Tibério Gaspar, autores de “BR-3” – nome antigo da estrada BR-143, que ligava Rio de Janeiro e Belo Horizonte –, ofereceram sua música primeiro a Wilson Simonal e depois para Tim Maia, para que um deles a defendesse. Como estes recusaram o convite, a dupla de compositores foi a um “inferninho”, em Copacabana, ouvir um negro que poderia dar à música o estilo soul que eles pretendiam para “BR-3”. Lá eles ouviram o crooner Antônio Viana Gomes que cantava em inglês com sotaque do Harlem e tinha o perfil de um verdadeiro Black Power, que Antônio e Tibério sonhavam. Antônio, o cantor da noite virou Toni Tornado. Orientado para que reproduzisse em cena os gestos que caracterizavam os Panteras Negras norte-americanos e a soltar-se em uma dança até então nunca vista em palco algum, Tornado virou a grande sensação daquele festival. Como grande artista que é, Toni desempenhou-se no palco de forma tão esplendorosa e convincente que os militares viram nele a encarnação escrita e escarrada dos líderes do movimento negro dos EUA. O delírio conspiratório foi às raias da demência com a tentativa de fazer de “BR-3” um hino ao viciado em drogas. Chegaram a sugerir que alguns versos, na verdade, não eram exatamente como estavam escritos na letra de Tibério Gaspar e, sim, eram outros, muito mais explicitamente malfeitor: “Há uma seringa/ Que vem do céu, cruzando o braço/ e uma agulha feita de aço/ pra espetar outra vez”. Indiferente às pressões sofridas, Toni seguia seu caminho de cantor de sucesso. Até que, em 1972, a polícia invadiu brutalmente seu apartamento. Foi levado preso para Brasília e “convidado” a deixar o Brasil. Estava encerrada a carreira fulminante de um cantor que ousou ser diferente. Um cantor que era “apenas” original. E negro! Toni viajou pelo mundo afora até voltar ao seu País e transformar-se em um ator coadjuvante das novelas da Rede Globo de Televisão.Os tempos eram de caça às bruxas. Cada esquina escondia o perigo, dobrá-la poderia significar a morte. Eram anos terríveis, aqueles. E foi movido pelo sentimento de que cometi uma injustiça que, mesmo antes de escrever as linhas acima, eu já tinha escrito o texto que se segue.Em 1968, consolidado o golpe dentro do golpe desfechado pelos militares em 1964, meu coração em disparada buscou uma “trincheira” em forma de palco e de onde se viam jovens como eu serem torturados e mortos. De lá se viam também outros jovens serem mortos em suas guaritas por aqueles outros tão jovens quanto eles e quanto eu. A tudo vi e a tudo denunciei. Mas, em 1970, houve um dia em que acusaram Wilson Simonal de ser um informante da ditadura e meus ouvidos de músico creram. Incontestes. Noutro, prenderam o maestro Erlon Chaves e meu gogó de cantor se fechou. Afônico. Em mais um outro, as forças do arbítrio “convidaram” Toni Tornado para ir para o Uruguai e meus olhos se fecharam. Trêmulos. Meus ouvidos entupiram-se para não ouvir a triste história de três dos maiores músicos que o Brasil já teve e que, pouco a pouco, foram sendo desterrados de sua dignidade, apesar de seus talentos imensos. E a solidão para eles se fez mortal, porque decretada por alguém próximo. Foi o abandono dos “amigos” que lhes manteve a alma exilada e em silêncio. Três músicos talentosos foram apagados da memória musical brasileira por vozes dissonantes das deles e que lhes viraram o rosto para demonstrar repugnância pela “alienação imperdoável”. Para além do talento e da vocação para provocações, em pleno período ditatorial Erlon teve o “atrevimento” de conquistar a exuberante Vera Fischer; Toni Tornado “ousou” namorar a loura Arlete Sales; Simonal bagunçou o coreto das “divisões” rítmicas e tinha a seus pés as mulheres e o sucesso que seu suingue lhe dava. São três vítimas do preconceito racial e cultural mais hediondo e enrustido que o Brasil e a música brasileira já viram. Nem quando por aqui se prendia músico por vadiagem ou viadagem a violência foi tão brutal quanto a que lhes impuseram a ditadura militar e os que, feito eu, faziam a distinção preconceituosa: alguns eram mais “amigos” que os outros. Eu, o “revolucionário”, não combati aquele combate. E deveria tê-lo feito. Eu, o “guerrilheiro”, não disparei minhas poucas armas para tentar evitar o massacre que vitimou três dos meus companheiros de profissão. E deveria ter-me insurgido. Eu, o “solidário”, jamais atentei para a obrigação de entrevistas e shows em desagravo aos três músicos, privados de suas carreiras de inquestionável sucesso, por haverem desafiado o esperado, por irem além do que a eles era “concedido”, mas assim não o fiz. Sou de uma categoria profissional onde vivemos como pessoas que nunca são o que imaginamos ser. Somos um futuro sempre adiado e que, desdita suprema, quase nunca chega. Aliás, ninguém é o que pensa ser, somos apenas aquilo o que escrevemos ser.Tudo o que um dia sonhei para mim, os três tiveram. As mulheres com quem eu jovem vocalista sonhei e não tive, Simonal, Erlon e Toni tiveram e foram felizes com elas em suas manifestações artísticas repletas de criatividade e sucesso que julguei possessões minhas. Mas nunca é tarde para admitir culpa. Ao contrário, ela é mais necessária por tardia e ainda mais saudável por faxinar velhas convicções, sinônimas dos mais deslavados prejulgamentos. Pois a dor maior não advém do ato desprezível, a dor insuportável vem, no dia-a-dia seguinte à ação, repleta de pequenas “desculpas”, de meros “não era comigo” ou “problema dele” e do “desculpável” consolo: “Nunca! Eu não sou preconceituoso”. A dor não é passado, é presente e, assim como não seca a lágrima derramada contra a injustiça do abandono, é difícil escondê-la, pois ela gruda e passa a ser nossa para sempre. Uma tatuagem.Foram necessários dois julgamentos simbólicos para que um dos nossos grandes cantores fosse “absolvido” pelos “Júris” que se pautaram na mais absoluta falta de provas para tomar a decisão que inocenta, mas não redime o sofrimento por que Simonal, Erlon, Toni e suas famílias passaram, muito menos livra a cara de quem fez o pior dos silêncios: o que está dentro de nós e juramos sermos incapazes de pronunciá-lo.P.S. 1 – Sinto muito se escrevi algo que possa ter causado algum constrangimento ou incomodado algum de meus colegas de profissão. Expus aqui o meu sentimento, a minha emoção, a minha verdade. E minhas emoções, minhas verdades e meus sentimentos são apenas meus. E se reafirmo o óbvio é por respeitar qualquer decisão de quem quer que seja, mesmo discordando frontalmente delas. Não peço que ninguém concorde comigo, muito menos que ninguém se sinta compelido a ter pensamento igual ao que tive e que aqui expressei. Senti que precisava falar sobre essa questão tão histórica quanto importante para nós fazedores da música popular brasileira. E assim o fiz e assim me sinto um pouco melhor. Mas nada trará Simonal de volta para Max e Simoninha. E isto é muito triste. P.S. 2 – Algumas das citações contidas neste texto são fruto da leitura da belíssima e imprescindível “bíblia” musical escrita pelo meu amigo Zuza Homem de Mello: “A era dos festivais – Uma parábola”, lançado em 2003 pela editora 34, obra que todos os que amam e querem melhor compreender a Música Popular Brasileira deveriam ler.